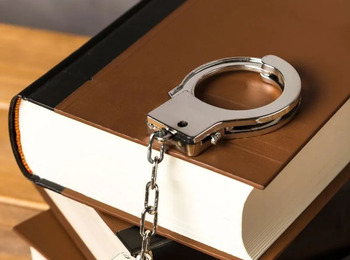O Brasil vem convivendo há anos com números assustadores de violência letal, e a cada dia parece que está pior. Segundo o Anuário de Segurança Pública, o país, em tempo de paz, tem mais mortes violentas do que a Síria, em guerra. De março de 2011 a novembro de 2015, morreram 256.124 pessoas na Síria, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, morreram 279.567 no Brasil. A participação das agências policiais nesses números é considerável. No Estado do Rio de janeiro, de 2000 a 2016, 12% das mortes violentas foram provocadas pela Polícia, na cidade do Rio, esse número salta para quase 20%.
Diante dessa triste realidade, surgiu uma pergunta, por que o Rio de Janeiro convive com números tão altos de letalidade policial? No entanto, verificou-se que além do alto número de mortes pela Polícia do Rio, grande parte dessas mortes não são devidamente investigadas e há fortes indícios que em vários casos houve execução extrajudicial. Dessa forma, nasceu outro questionamento, que foi o norteador do presente artigo, há uma cultura que estimule mortes em nome do Estado no Rio de Janeiro?
Para responder à questão, é possível se utilizar do Neoinstitucionalismo, paradigma teórico que se desenvolveu em diversas ciências sociais, como a Sociologia, Economia e Ciência Política. O Neoinstitucionalismo possui diversas vertentes: o Institucionalismo Sociológico, o Histórico e da Escolha Racional. Todas as vertentes buscam compreender os diversos resultados coletivos (político, social e econômico) por meio das instituições. Sendo que essas moldam ou constrangem o comportamento individual.
São válidas as reflexões produzidas no Institucionalismo Sociológico por entender que essa vertente responderia de forma mais adequada às indagações que orientaram o estudo. O grande diferencial do Institucionalismo Sociológico em comparação aos outros institucionalismo é que aquele conceitua instituição de forma “muito mais amplo que nos demais institucionalismo, incluindo não só as regras, procedimentos ou normas formais, mas também os sistemas de símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos morais que fornecem ‘padrões de significações’ que guiam a ação humana”. Com isso, pode-se inferir que em certos casos há uma equivalência entre “cultura” e “instituição”. Além disso, o Institucionalismo Sociológico entende que o comportamento individual é limitado pela cultura, visão de mundo e experiência de cada pessoa. Nem sempre as pessoas agem de forma “mais racional”, muitas vezes agem de forma “mais convencional”. E a instituição é a variável explicativa desse fenômeno.
Dentre os diversos autores do Institucionalismo Sociológico, pode-se urtilizar as proposições de Paul Joseph DiMaggio e Walter Woody Powell e de Pamela Tolbert e Lynne Goodman Zucker acerca do processo de institucionalização. Tolbert e Zucker explicam o processo de institucionalização por três etapas: habitualização, objetificação e sedimentação. Já DiMaggio e Powell explicam a institucionalização por meio do isomorfismo, que é um processo de homogeneização de práticas e formas organizacionais por atores que se encontram no mesmo campo organizacional. A institucionalização plena de uma prática ocorrerá quando houver a sedimentação dessa prática (modelo de Tolbert e Zucker) e quando o campo organizacional estiver cristalizado, fazendo com que a ação do isomorfismo esteja mais intensa, tornando, assim, o comportamento das organizações mais semelhantes (modelo de DiMaggio e Powell). Percebe-se que os dois modelos explicam o mesmo fenômeno de forma distintas.
Com essas proposições, foi feito estudo da PMERJ e da letalidade policial no Rio de Janeiro. Dessa forma, verificou-se a forte influência do militarismo e do Exército na construção da atual PMERJ. Desde sua origem, com a Divisão Militar da Guarda Real em 1809, a Polícia do Rio era militarizada. Na década de 30, a lei 192 de 1936 “determinou que as polícias militares - polícias urbanas - deveriam ser estruturadas à imagem e semelhança das unidades de infantaria e cavalaria do Exército regular” (MUNIZ, 1999, p. 71). Além disso, as Constituições de 1934 e 1946, respectivamente, estabeleceram que as Polícias Militares seriam reservas e forças auxiliares do Exército. Mas a ingerência do Exército não se limitou a questões legislativa e estruturais, Jaqueline Muniz (1999) destaca que até 1988, com 179 anos de existência, a PMERJ foi comandada 160 anos por oficiais de alta patente do Exército Regular.
Todas essas influências contribuíram para que o PMERJ se assemelhasse cada vez mais com o exército. Contudo, a função de uma e de outra organização é completamente distinta. Cabe ao Exército eliminar o inimigo, já a polícia “manter a paz e o fluxo da ordem com o mínimo de demonstração de força e com máximo de prevenção contra ferimentos e proteção aos direitos constitucionais dos cidadãos” (ROCHA, 2013, p. 87).
Ocorre que essa similitude da PM com exército fez, por muitas vezes, que as Polícias Militares agissem muito mais para eliminação de inimigos do que para a proteção e segurança dos cidadãos. Nos períodos ditatoriais de Vargas e do Regime Militar, a polícia foi usada como instrumento para eliminação de inimigos do Estado, e, em muitas vezes, ela agiu desrespeitando os direitos humanos, seja por meio de torturas ou assassinatos.
Com o advento da Constituição Cidadã de 1988 e o retorno da democracia, esperava-se que a Polícia Militar retornasse a sua missão de origem, valendo-se, quando fosse o caso, do uso da força de forma legítima e proporcional para garantir a segurança pública. No entanto, os altos números de letalidade policial (que se tornaram mais transparentes ao longo dos anos) denunciavam que a Polícia Militar agia em desacordo com a nova ordem democrática. E essa suspeita foi se concretizando na medida em que a pesquisa verificou que cerca de 99% dos homicídios cometidos pela Polícia do Rio não são investigados adequadamente e em muitos casos há fortes indícios de execução extraoficial.
Porém, num Estado Democrático de Direito, só é possível imaginar esse cenário com a participação ou conivência de outros órgãos estatais. E de fato, é possível mostrar que outros atores organizacionais da Segurança Pública, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, atuam de forma a permitir a perpetuação de tal prática. O Ministério Público tem responsabilidade por, constitucionalmente, ser órgão de controle externo das polícias, além de ter poderes para investigar ou impedir a investigação de crimes. No caso da letalidade da Polícia do Rio, o MP tem requerido o arquivamento de quase todos os inquéritos abertos para a investigação dos autos de resistência.
Já o Poder Judiciário tem uma responsabilidade subsidiária na permanência desse quadro. Isso porque, pode o Magistrado não aceitar o arquivamento requerido pelo Promotor. Nesse caso, o inquérito é enviado ao Procurador-Geral e este verificará se realmente irá arquivar o inquérito ou vai dar prosseguimento à investigação. No presente artigo, verificou-se que ínfimo são os Magistrados que não acolhem o pedido do Promotor, o que pode indicar o quanto o Judiciário também apoia a política de extermínio promovida pelo Estado.
Todas essas informações (a alta letalidade, a ausência de investigação e fortes indícios de mortes extrajudiciais) corroboram a hipótese de que está institucionalizado a cultura de assassinato em nome do Estado na PMERJ. Assim, uma prática está institucionalizada quando se perpetua por um longo tempo e quando é apoiada por outros atores organizacionais. No caso fluminense, há décadas essa prática vem sendo perpetrada e os diversos atores organizacionais a ratificam, cada qual a sua maneira, a Polícia Militar de forma direta e o MP e o Judiciário de forma indireta.
A institucionalização das mortes pela Polícia, além de ser uma tragédia humana, impede que bons policiais se diferenciem de maus policiais. Isso porque, sem a devida fiscalização, torna-se impossível verificar quais policiais usaram da força de forma legítima e quais usaram de forma legítima. Conforme Cano e Fragoso (2000, p. 232), “o dia em que o estado conseguir uma investigação satisfatória será possível diferenciar: parabenizar os bons policiais e punir aqueles que cometem crimes”.
Embora venha se perpetuando por décadas esse cenário de assassinatos em nome da polícia, percebe-se que desde a promulgação da Constituição de 1988 algumas medidas foram tomadas a fim de reverter esse lamentável quadro. Contudo, infelizmente, por enquanto, nenhuma medida se mostrou eficaz. Porém, não deixa de ser verdade que, mesmo que embrionariamente, há um processo de desinstitucionalização em curso, que, quem sabe, daqui a alguns anos, permita de fato pôr fim a essa triste realidade. Enquanto esse dia não chega, pessoas que se indignam com esse quadro vão, cada a um do seu jeito, tentando lutar contra ele.