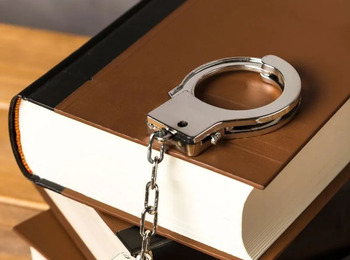Durante todo o século XX e início do XXI, a moderação era pré-condição para a eleição.
Nos Estados Unidos e na Inglaterra, apenas dois partidos dominam as eleições. Sendo assim, nenhum deles se radicalizava para não perder votos importantes de um grupo social determinado.
Ficou famoso o debate entre Aécio Neves e Dilma Roussef na campanha presidencial de 2014, em que nenhum candidato se posicionava de maneira categórica sobre nenhum tema, justamente para não despertar a ira de grupos contrários a um posicionamento.
Nos últimos anos, esta situação mudou bastante, e a rejeição eleitoral deixou de ser um problema, para se transformar num ativo político, num capital simbólico. Ela cria uma marca.
A rejeição eleitoral é um fenômeno social, gerado por questões pessoais ou ideológicas. Um candidato grosseiro, antipático e arrogante pode aumentar a repulsa da sociedade. Neste caso, o pensamento é bem simples: ora, se não gosta de ser mal tratado, por que gostaria de um político assim?
No entanto, este mesmo comportamento, na defesa de uma pauta ideológica, pode ser considerado uma assertividade, uma força de vontade do candidato que até aumenta sua aceitação em um nicho eleitoral determinado. A linguagem e o sucesso relativo de Jair Bolsonaro e Pablo Marçal demonstram isso.
Do ponto de vista ideológico, é preciso sincronizar a rejeição eleitoral a um debate global. As democracias têm enfrentado uma tensão entre grupos sociais historicamente fracos contra um status quo.
Em praticamente todas as democracias, as minorias estão buscando espaço político, econômico e cultural. A luta por protagonismo de mulheres, negros e grupos LGBT+ geram forte polarização social, refletida também no mundo político. O candidato que adota estas novas forças, acaba perdendo o voto da outra parte da sociedade, mais conservadora.
Nos EUA, ficaram famosos os movimentos “me too” de combate ao abuso e assédio contra mulheres e “black lives matter” contra a violência policial que atinge a população negra.
Em regra, partidos de esquerda adotam as minorias, fazendo sucesso neste nicho, mas despertando a ira conservadora, que acaba confiando na direita ou na extrema direita como um mecanismo de contenção.
Não é por acaso que um negro ascendeu à presidência norte-americana, Barack Obama e, logo depois, foi sucedido por um candidato com discurso radical, Donald Trump. No Brasil, após um governo de uma mulher de esquerda, Dilma Roussef, veio um presidente próximo ao extremismo de direita, Jair Bolsonaro.
Além deste debate identitário, a Europa ainda convive com imigrantes de suas ex-colônias. São árabes, negros e muçulmanos que reivindicam direitos, renda e políticas públicas. Isso desperta uma rejeição muito grande de nativos europeus, o que acaba tendo um reflexo político: candidatos e partidos tendem a radicalizar seu discurso como mecanismo de adotar esta parcela da sociedade - e seus votos.
Dentro deste debate, conceitos antigos são resgatados, mas não servem para descrever o fenômeno atual. Tanto o fascismo, quanto o comunismo nascem da crise capitalista democrática dos anos 20 e 30 do século XX, na conjuntura de extrema pobreza que não se reproduz hoje em dia no centro do capitalismo mundial.
Pautas de Meio Ambiente e Segurança Pública se reduzem a essa leitura ideológica, com a esquerda defendendo o planeta e a igualdade social como mecanismo preventivo à criminalidade e a direita apostando no crescimento econômico sem preocupações poluidoras e com um discurso de radicalismo no combate à marginalidade.
Em eleições legislativas, a rejeição é um patrimônio, porque ela fixa a imagem do candidato a uma pauta que tem aderência. Ser o maior defensor da polícia, da educação, do consumidor e adotar uma linguagem enfática, acaba gerando resultados permanentes. São famosos os casos de Alfredo Sirkis, como ambientalista, e Nelson Carneiro, na luta pelos direitos das mulheres.
No Brasil, a disputa pelo executivo apresenta contornos distintos. Tradicionalmente, considera-se a eleição dividida em dois cenários absolutamente diferentes, o primeiro e o segundo turnos.
Candidato que vence no Primeiro Turno tem pouca rejeição. Todas as transformações da sociedade contemporânea não mudaram isto. Foi o caso do Presidente Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 1998 e, provavelmente, acontecerá com Eduardo Paes, nas eleições municipais do Rio de Janeiro, em 2024. O primeiro iniciou a carreira mais à esquerda, mas percorreu uma trajetória em direção ao centro; o segundo fez o caminho aposto.
Em 1998, o governo FHC sofreu com a crise econômica da Rússia. Dizia-se que qualquer poste venceria as eleições, mas… se dessem um nome ao poste, Fernando Henrique venceria. Foi o que aconteceu e isso explica bem o fenômeno da rejeição.
Alguns votos são consagrados porque se considera um candidato melhor. Mas, boa parte dos eleitores escolhe quem não vai prejudicá-lo, quem é moderado e não se radicaliza. O extremismo gera medo de se perder uma renda ou um direito e isto se reflete na rejeição e nas eleições.
Mas, não é todo mundo que vence no primeiro turno. Os candidatos tendem a decolar a partir dos 15% de votos. Geralmente, este patamar é atingido com o conhecimento prévio ou pressuposto sobre o candidato. Depois disso, ele precisa se posicionar no horário gratuito em rádio e TV, nas redes sociais, nos debates e nos encontros focais com grupos sociais. Neste momento, sua candidatura congela ou decola para o segundo turno, crescendo pelo menos para 30% da intenção de voto.
Essencial neste momento é o político entender duas perguntas. Por que tenho cerca de 15% dos votos? Assim, pode manter aquele público fiel. Como faço para aumentar meu percentual? Assim, consegue ir para o segundo turno.
De toda maneira, o primeiro turno é sempre uma luta por incorporação de votos. É preciso saber o que os eleitores querem e responder corretamente no seu discurso e na sua campanha para atrair aqueles grupos de interesse. Isto pode gerar a necessidade de diminuir a rejeição.
Já o segundo turno, não é exatamente uma luta para conquista de eleitores, mas um duelo. É preciso lutar contra um oponente. Mostrar que é melhor do que o outro é mais importante do que conquistar nichos sociais. Neste momento, diminuir a rejeição é importante demais, porque o eleitor não tem mais escolha. Se for um candidato que não irá lhe prejudicar muito ou agredir excessivamente sua ideologia, tanto melhor.
Reverter a rejeição, tanto no primeiro quanto no segundo turno, não é tarefa fácil, pois é preciso reverter uma imagem negativa, com diversos princípios e valores colados ao candidato. E nesta sociedade polarizada, isto não é trivial.
Nas empresas, isto é chamado de “rebranding”, ou seja, um reposicionamento sobre o que as pessoas acham de uma marca. Na política, isto é mais efetivo antes do pleito eleitoral.
Candidato perdedor em três eleições presidenciais e identificado com pautas de esquerda, Lula fez isto com eficiência em 2002, criando a imagem de um “Lulinha paz e amor”. Abandonou discursos radicais, como calote na dívida externa, para se aproximar do centro - e conseguiu se eleger.
Mas com campanha na rua, isso é mais difícil. É preciso radicalizar tanto quanto o discurso extremista que provavelmente gerou uma rejeição ao candidato. Buscar diálogo com associações adversárias, criar compromissos de que não irá alterar nenhum direito, prometer cargos a personalidades representativas destes grupos que o rejeitam… sem prejudicar os votos do seu próprio nicho eleitoral.
No final das contas, o motivo que transforma um candidato em fenômeno, também pode ser uma barreira eleitoral, porque a rejeição não se desprende tão fácil. Ela contamina e condiciona. Mudá-la não é simples, e talvez nem seja desejável para o bem da sociedade. Turva mais do que esclarece, confunde, mais do que deixa clara a intenção sincera do candidato.