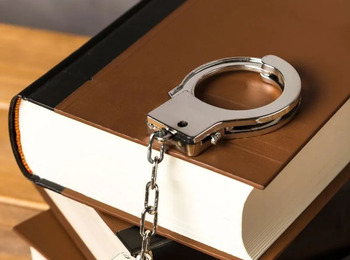Têm se tornado muito comuns manifestações acerca do cabimento da indenização do artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT nos casos de paralisação de serviços considerados não essenciais como forma de combate à disseminação do vírus da covid-19. Há quem defenda a tese de que este dispositivo da CLT tem aplicação caso empresas fechem as portas em virtude dos decretos estaduais e municipais de paralisação das ditas atividades.
Por outro lado, há quem creia não ser aplicável tal artigo em casos tais como o ora analisado, por se tratar a covid-19 de evento imprevisível e que não deixou alternativa ao poder público. Há, aqui, uma grande confusão.
O referido artigo 486 trata do factum principis, o qual, por sua vez, integra a teoria da imprevisão. Portanto, analisar o cabimento do referido artigo nos casos de paralisação de atividades não essenciais em época de pandemia é analisar a existência ou não do caráter de factum principis nos atos governamentais que ensejaram tais paralisações.
Impõe-se, assim, num primeiro momento, verificar se o ato da administração pública decorre de fatos imprevisíveis ou não. Em segundo lugar, se a administração pública possuía alternativas de ação ou se não tinha outra atitude a tomar. Em terceiro lugar, se este ato da administração pública causou a cessação definitiva das atividades empresariais.
Inicialmente, há que se deixar claro que, ainda que se trate de ato em prol da coletividade, não está a administração pública autorizada a causar danos ao cidadão a seu bel prazer, podendo vir a responder o ente administrativo pelo dever de indenizar. Mas quando indenizar?
Embora factum principis e força maior em sentido estrito possam ter conseqüências idênticas (cessação definitiva da atividade empresarial), diferem ambos os institutos no evento imprevisibilidade. Na força maior, o evento é imprevisível e não vinculado à vontade do estado. No factum principis, este evento é previsível e gera impacto econômico.
Na paralisação de atividades não essenciais, por decretos estaduais e municipais, em época de pandemia da covid-19, se tal paralisação, ainda que temporária, ocorreu sobre a integralidade das atividades de uma empresa e deu causa à falência e fim das atividades da empresa, está preenchido o requisito “paralisação temporária ou definitiva da atividade”.
Quanto à origem da paralisação ter sido ato, lei ou resolução da administração pública, não há controvérsia, na medida em que se trata de decretos estaduais ou municipais. A motivação, o fundamento desses atos pelo estado é que será o determinante para aferir se ocorreu ou não o factum principis.
É requisito do factum principis que o administrador público tenha à sua disposição alternativas e utilize justamente aquela que mais prejudica o empresário, de forma irrevogável, definitiva. Enquanto o factum principis traz carga de previsibilidade, internalidade e resistibilidade, a força maior ou o caso fortuito trazem carga de imprevisibilidade, externalidade e irresistibilidade.
Na força maior e caso fortuito, o evento é estranho ao autor do ato (decreto de paralisação), estando fora de sua esfera de controle jurídico (externalidade) e, ainda é insuperável, nada poderia o administrador público fazer para que pudesse deter a causa do ato (decreto de paralisação), pelo que se diz ser irresistível tal acontecimento.
No factum principis, o contrário acontece. O evento era resistível, previsível e havia discricionariedade do administrador para escolher a medida menos danosa para evitar sua ocorrência.
Assim, se a administração pública tinha como adotar medidas menos gravosas para prevenir-se das conseqüências de eventual aumento de casos de contágio de covid-19 e, não o fazendo, viu-se em situação de graves conseqüências deste aumento contagioso, como esgotamento de leitos de UTI, insuficiência de profissionais da saúde e paralisação de atividades não essenciais, tem-se presente o factum principis.
Com efeito, se a administração pública determinou um primeiro período de paralisação de atividades empresariais e isolamento social, teve um ano para se preparar, construir hospitais de campanha, contratar médicos, recebeu verba especificamente para este fim, mas, apesar disso, decretou paralisação, então, optou por não utilizar as soluções e os meios que tinha e confiou na possível não ocorrência de uma segunda onda de contágio mais agressiva.
Quando da verificação do primeiro caso de covid-19 no Brasil, a disseminação da doença e a ocorrência de mortes, o poder público, assim como toda a sociedade, surpreendido por moléstia desconhecida, letal e de abrangência planetária, se viu efetivamente diante de um evento imprevisível, natural, irresistível e externo à sua esfera jurídica de controle. Neste primeiro momento, o poder público estava diante de um evento de força maior, que o obrigava a tomar atitudes drásticas, urgentes e dolorosas, e que o isentavam de responsabilidade.
Ocorre que, ainda durante o ano de 2020, o governo federal repassou verbas aos estados e municípios, sendo que o Supremo Tribunal Federal conferiu à união, estados e municípios competência concorrente para estabelecer medidas de enfrentamento à covid-19. Com isso, a responsabilidade por eventuais danos espraiou-se, de igual forma, entre os entes federativos.
No decorrer do ano de 2020, a covid-19 tornou-se mais conhecida, cientistas decifraram-lhe mecanismos de ataque e passaram a desenvolver vacinas, cujo estudo durou todo o ano e ainda está em curso em relação a todos os seus efeitos. Entes federativos houve que ergueram hospitais de campanha, para depois desmontá-los. Outros sequer ergueram tais hospitais.
A preferência pela politização indevida do enfrentamento da covid-19 trouxe ao poder público a responsabilidade pela lentidão da vacinação, pela falta de um tratamento devido, pela deficiência do atendimento emergencial. Esgotamento de leitos de UTI também foram conseqüências de uma política de ideologia acima do humanitário.
É lógico que há quem defenda que o artigo 3º da Lei nº 13.979/2020 traz alternativas para que a discricionariedade do administrador o leve a escolher sempre a menos danosa e, por isso, se pode afirmar que a conduta equivocada de prevenção pelo poder público foi uma clara opção mais gravosa, ilustrada pela paralisação de serviços não essenciais pela segunda vez, um ano após a primeira paralisação do tipo.
É um argumento considerável este exposto retro, porém o mais significativo, e talvez até em adição a este argumento, é que fica evidente que, enquanto na primeira onda de contágio, em 2020, o poder público estava diante de força maior, agora, na segunda e mais agressiva onda de contágio, não se pode dizer que o poder público foi pego de surpresa, de forma irresistível, pelo evento danoso.
Pelo contrário, a segunda onda de contágio já era prevista desde o ano passado de 2020 e o poder público teve um ano para se preparar, mas parece que não o fez. Esta preparação, inclusive, foi o fundamento para a decretação da primeira medida de paralisação e isolamento social, em 2020.
A segunda onda de contágio, de 2021, era previsível e efetivamente foi prevista, os meios para lidar com a doença foram colocados à disposição, porém a ação dos entes federativos não foi eficaz, pois fruto de más decisões gerenciais movidas por excessiva autoconfiança ou otimismo.
Esta equivocada condução de crise gerou a paralisação de serviços não essenciais em 2021, o que, a rigor, não seria necessário caso houvesse aplicação das verbas recebidas do governo federal de forma mais acurada, construção de hospitais de campanha, contratação de mais médicos. Configurou-se, assim, excesso indenizável.
A aplicação do artigo 486 da CLT não significa que o empregador ficará desincumbido de arcar com as verbas trabalhistas, mas sim que ficará isento do pagamento das verbas indenizatórias, apenas. O entendimento jurisprudencial e doutrinário, não unânime, é no sentido de que tal verba indenizatória se refere aos 40% do FGTS. Há quem defenda a repartição da responsabilidade, ou seja, 20% do FGTS pagos pelo empregador e 20% pagos pelo poder público. Esta última posição não está correta, pois a lei não fala em tal responsabilidade compartida. Pelo contrário, é expressa, quando se refere à responsabilidade do poder público.
O artigo 486 da CLT é muito mal escrito, lacônico no que se refere à indenização. Por isso, há quem defenda que o aviso prévio deve se incluir no caso. Para os que entendem que a cessação da empresa por ato do poder público nos moldes do referido artigo 486 se equipara à demissão sem justa causa, o ávido prévio estaria incluído. Para os que entendem que a cessação equivaleria a uma demissão por justa causa, o aviso prévio não estaria entre as verbas indenizatórias. Isto se for considerado o aviso prévio uma verba indenizatória, mas não é esta discussão que se pretende no presente artigo.
Assim, o que se tem dito é que o empregador atingido pelo artigo 486 da CLT deverá pagar a rescisão trabalhista, sem as verbas indenizatórias e, caso o empregado ajuíze ação trabalhista buscando estas verbas, deverá ele, empregador, invocar o factum principis em sua defesa e pleitear o ingresso do poder público no pólo passivo da ação.
Há também quem invoque o artigo 5º da constituição federal para afastar a aplicabilidade do artigo 486 da CLT no caso da pandemia covid-19. Trata-se de uma falácia. O direito à vida é complexo e polissêmico, abrange fome, desemprego e criminalidade, que matam. Além disso, o artigo citado menciona que a liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade também são direitos invioláveis. Privar deles o cidadão é inconstitucional.
De se ressaltar que a MP 927/2020 tentou invadir indevidamente a seara jurisdicional, pois previa, dentre outras coisas, que a pandemia seria considerada força maior. Tal MP caducou, felizmente, pois força maior é fato da natureza, não definido como tal por lei. A entrega da norma concreta é atribuição do juiz, não do legislador.
Além disso, o artigo 486 da CLT é claro quanto ao responsável pela cessação definitiva das atividades empresariais por ato do poder público e não exige a perquirição das causas e origens dos atos de império. Importante, ainda, lembrar da feição de proteção do direito do trabalho, seu caráter alimentar, a função social do salário. Por isso, se o empregador se vê subitamente desprovido de sua capacidade empresarial por ato de império do poder público, e já não pode prover sua subsistência e muito menos pagar as verbas indenizatórias referentes à relação de trabalho, é o poder público o responsável por tal pagamento, pois não pode o empregador ficar desprotegido pelo infortúnio.
Uma consideração de ordem lógica pode ser imposta: se causar o fechamento definitivo de um comércio, por exemplo, no caso da pandemia, por ato estatal, pudesse livrar o estado da responsabilidade por estes atos, da mesma forma poderia livrar o empresário. Se a pandemia é força maior e isenta o estado, também o fará com o empresário.
Não há que se invocar, aqui, o argumento de que o empresário assume o risco da atividade econômica e, como tal, deve arcar com as consequências da extinção de sua empresa no caso de decreto do poder público cuja execução levou a tal extinção. É que assumir os riscos da atividade econômica pressupõe que tais riscos estejam ligados às atividades desempenhadas por esta empresa. No caso da pandemia da covid-19, o risco corrido pela atividade empresarial vem de fora de sua esfera jurídica de controle, não pertence ao âmbito da atividade empresarial.
Por fim, há um argumento curioso, defendido por quem prega a ocorrência de força maior nos casos tratados neste artigo: os administradores sempre fizeram o que podiam, estiveram sempre à frente no combate à pandemia e seus efeitos e, por isso, não pode haver responsabilização como, por exemplo, a do artigo 486 da CLT.
Ocorre que este argumento funciona exatamente na via inversa: se sempre estiveram no comando da situação e, mesmo assim, apesar de todas as evidências, o resultado foi o que se viu em 2021, então parece que têm, sim, responsabilidade, pois detinham o poder decisório. Isto sem falar no fato de que, ao emitir tais decretos, o estado se imiscuiu nas relações privadas empregado x empregador, atraindo para si o risco.
Em 2004, o Supremo Tribunal Federal teve a chance de julgar a aplicabilidade do artigo 486 da CLT, porém não o fez, pois se tratava de mandado de segurança sobre lei em tese, o que é inadmitido (MS 24810). Já em agosto de 2020, a suprema corte voltou a analisar o tema, na Reclamação 41.741-RJ.
Da decisão mencionada extrai-se sua inaplicabilidade à hipótese tratada neste artigo, pois:
- os decretos emitidos em 2021 são no sentido de paralisação total de atividades consideradas não essenciais, hipótese não prevista pelo STF nesta decisão;
- a MP 927/2020 caducou, sendo hoje em dia inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, no caso de paralisação total de uma empresa, por ato unilateral do poder público que leve à posterior cessação definitiva de suas atividades, ocorre o factum principis, com a incidência do artigo 486 da CLT, em desfavor do Estado.