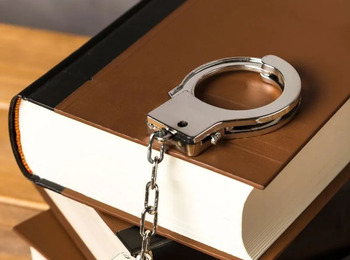Examinando esse período histórico, atesta-se que a metrópole envidou esforços para coibir os abusos, os atos de delinquência, a corrupção aqui verificada, ora admitindo o “direito de representação”, ora impondo a abertura de “devassas” contra aos que entendia ser fundadas as queixas, ora determinando as “declarações de residência”, como forma de controle dos representantes públicos régios no exercício de seus mandatos.
Nos autos de residência o servidor régio era investigado, ao fim do mandato, acerca do desempenho e lisura de sua conduta condicionando-se o resultado dessa investigação ao desempenho de novos cargos, e mesmo da obtenção da remuneração por serviços prestados. Nessa seara, Adriana Romeiro afirma:
Para que o funcionário pudesse solicitar a remuneração pelos serviços prestados, era imprescindível que ele tivesse a residência aprovada- ou, como se dizia à época, “posto a residência corrente”. Sem residência, não havia mercê. Só assim ele poderia dar entrada nas petições de remuneração pelos seus serviços- o que significava também a obtenção de novos cargos e postos-, o que, aliás, explica a ansiedade com que, mal saídos de suas funções, os agentes régios apressavam-se em solicitar a nomeação do sindicante e a abertura da devassa. Muitas vezes, a conclusão do processo até a certidão final arrastava-se durante anos, causando sérios prejuízos ao interessado, que se via também envolto sob suspeita de irregularidades. Assim, o confessou, por exemplo, Ayres de Saldanha Coutinho Mattos e Noronha, que, em 1749, escreveu ao Conselho Ultramarino, dando conta de que a sua residência, realizada no Rio de Janeiro, já fora sentenciada, mas que fazendo “exata diligência no cartório” para onde fora remetida, não pôde encontrá-la. Por essa razão, queixava-se ele, “correm graves prejuízos aos requerimentos do suplicante.” (ROMEIRO. 2016, p.221-222)
Percebe-se que a demora exacerbada do julgamento nos autos de residência era tida como espúria àquele diretamente envolvido na investigação, criando suspeitas de favorecimentos e transgressões. Vale transcrever:
A demora frequente com que o Desembargador do Paço despachava as residências dos funcionários ultramarinos levou o rei a questionar, em carta régia de 1638, os motivos por que não se enviavam logo, em companhia dos que iam substituir os residenciados, os ministros para tirar a residência. Em suas palavras: “sendo esta uma obrigação dos principais daquele Tribunal, e a que deve atender com particular cuidado, para se saber o procedimento de cada um, e se lhe dar prêmio ou castigo- e assim vos encomendo muito façais que não haja nesse particular descuido algum” (ROMEIRO.2016. p. 222).
Interessante que, a partir da análise dos ditos “autos de residência” pode se perceber que a preocupação com a lisura no trato do bem público era corroborado com o item “limpeza de mãos”. Nessa linha, Romeiro (2016.p.224) aponta que
de modo geral, a sentença final das residências tendia a seguir um padrão, já que o inquérito pouco variava, à exceção daqueles casos em que se devessem apurar denúncias específicas- cujo teor era acrescentado ao rol de perguntas a serem feitas às testemunhas. Valorizava-se itens como a limpeza de mãos, a obediência às ordens emanadas de Lisboa, o cuidado com o bem comum e até mesmo a conduta moral e religiosa.
Idealmente concebida para erradicar, ou ao menos dificultar, o cometimento de delitos (corrupção), no período colonial, os autos de residência foram considerados falidos porque não se prestava à sua criação.
Apesar desse aparente rigor, a residência estava longe de ser considerada um instrumento eficiente para apurar supostas irregulares cometidas pelos funcionários. Nem mesmo o monarca depositava confiança em sua eficácia, pois sabia que se prestava a todo tipo de burla, podendo ser manipulada ou adulterada, com o propósito de ocultar infrações e abusos. Por essa razão, buscando evitar que “os sindicatos possam perverter com negociações por outros meios o que muito se pretende por bem da Justiça”, um alvará régio estabeleceu, em 1614, que as residências fossem despachadas “em mesa grande”, cujo presidente ficaria encarregado de nomear os adjuntos das residências escolhidos entre seis desembargadores. (ROMEIRO, 2016, p. 229)
Caso curioso que faz exsurgir o espírito colonial a respeito do que se concebia por irregularidade na administração do bem público, é o do governador do Rio de Janeiro, Luis Vahia Monteiro que, apesar da intempestividade, demonstrava irresignação aos contrabandos e obtenção de vantagens ilícitas, em detrimento da passividade das autoridades superiores. Além disso e,
por seu turno, o governador não nutria opinião das melhores a respeito da Câmara e seus oficiais, a quem chamou de “hostis ladrões dos reais quintos”, afiançando que todos estavam envolvidos no contrabando de outro que se praticava entre Minas, Rio de Janeiro e Portugal. (ROMEIRO.2016.p. 212).
Nesse período histórico, sequer a Igreja externava a condição ideal de moralidade porque também incorria na prática de atos de corrupção. Nessa linha, com o cuidado de não estabelecer percentuais ou quantitativos, Oliveira Viana afirma que
todos os limites ao poder da Igreja que até aqui esbocei giravam, de um modo ou de outro, em torno do povo ou do Estado. Mencionarei o obstáculo final, que consistia num assunto estritamente interno- a corrupção e a ganância do clero. Essas duas características, acentuadas, achavam-se presentes até entre os jesuítas, a única ordem, cuja reputação de dedicação abnegada ao trabalho missionário era geralmente havida por incontestável. Especificamente, a extensão em que o clero estava envolvido na busca de interesses particulares, em especial o dinheiro, por meio de práticas contrárias à ética e altamente suspeitas, não pode ser precisada, isto é, não se pode dizer se esse estado de coisas incluía a maioria dos padres ou apenas uma grande percentagem deles. O número, na verdade, é quase acidental, visto que apenas desejamos mostrar que a corrupção desenfreada despojara o clero de um sentimento verdadeiro de unidade e propósito comum substituindo esses valores por um grosseiro individualismo materialístico. Isto é muito importante, pois dá a entender que mesmo que os demais fatores (poder derivado do prestígio, subordinação ao Estado, integração) não estivessem presentes e a autoridade clerical fosse mais firmemente constituída, é muito provável que a Igreja, ainda assim, tivesse sido incapaz de aumentar seu poder em razão do egoísmo de tantos membros seus, que bloqueava a unidade necessária ao atingimento de objetivos políticos. (VIANA.1973. p. 130).
Importante ressaltar que o termo “limpeza de mãos”, corrente à época, designava probidade na gestão do bem público e que era comum respeitar-se o triênio de cada mandato político para, após, aplicar a punição. Nesse contexto,
chamar um governador de volta ao Reino, interrompendo-lhe abruptamente o tempo de governança, submetê-lo a uma rigorosa devassa e, ao final, proceder ao castigo consistia numa tarefa das mais difíceis, mesmo nos casos em que o réu fosse reconhecidamente um delinquente- conforme o termo corrente à época (ROMEIRO, 2016, p. 237).
Para os crimes de traição e de lesa-majestade, em que, ontologicamente a corrupção se incluía a Coroa não admitia perdão. Curioso porque em tantas situações observava-se a complacência diante do rigor legal que desafiava, em verdade, a autoridade e poderio nos domínios de suas terras.
A rede de contatos, a “rede clientelar”, e a “economia do dom”, instrumentalizada pela concessão de mercês, arcabouço do patriarcalismo estatal eram correlatos, já que as redes pessoais favoreciam a concessão de benesses no Brasil colônia. Nessa linha, citando Pujo, Adriana Romeiro averba que,
seguindo a pista luminosa de Pujol de que “entre o poder central e o poder local havia uma densa rede de relações”, o que fez o exercício do poder, por parte da Coroa, depender do apoio dos grupos locais, implicando, segundo ele, “o florescimento de clientelas e de redes de intermediários sociais. (ROMEIRO. 2016. pp. 57-58)
Curioso o exame acerca de qual era o limite de tolerância da Coroa, e mesmo da tolerância da população colonial pela prática de atos de corrupção, já que o direito de representação, ou de petição, endereçado ao monarca apontava os abusos e as “devassas” resultavam, não raro, em absolvições e nomeação do denunciado para ocupar cargo público. Portanto,
mesmo que inócua a atuação da Coroa põe em evidência o empenho para erradicar os abusos e delitos no exercício do serviço régio, o que remete à existência de uma distinção entre comportamentos aceitáveis e outros inaceitáveis- muitos desses, aliás, previstos pela legislação do Reino –e, talvez o mais importante, a consciência generalizada das graves implicações dos problemas suscitados por tais comportamentos. (ROMEIRO, 2016, p.58)
Apontar as causas para o surgimento e fomento dos atos de corrupção desde o Brasil colonial não é tarefa difícil, ao contrário de catalogar as várias formas de práticas corruptivas. Nessa ótica, deve ser levado em consideração que a distância por longo período do colonizador, cujas ordens restavam muitas vezes flexibilizadas por conta mesmo da corrupção, e o grande comércio ultramarino, que ensejava diversas formas de contrabando, a par da venda de cargos públicos, da estrutura social que reduzia a maior riqueza desse período histórico- as terras- concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoa, formava o que já se esperava, uma grande rede de dependentes, completamente incapazes de alterar o sistema imposto.
Importante reiterar que a análise do termo corrupção deve atender sua ontologia, analisando-se o sistema, para que seja possível identificar sua prática, ainda que através do uso de outras nomenclaturas. Nessa linha, pode-se constatar que o termo contrabando, não raro, era utilizado no mesmo sentido de que corrupção. Confira-se:
O fato é que tanto o termo “corrupção” quanto o termo “contrabando”, correntes à época, não incidem sobre a frequência ou a tolerância às práticas que designam, mas apenas caracterizam determinadas modalidades de transgressão. Aceitos socialmente, praticados em larga escala, inseridos na dinâmica comercial local, corrupção e contrabando continuavam a ser o que eram: corrupção e contrabando- o que a própria legislação da época reforçava, ao estabelecer um conjunto de normas com vistas a combatê-los. (ROMEIRO. 2016.p.54)
Nesse contexto, identificando atos de corrupção desde o Brasil colonial, citando Gregório de Matos, assinala Schwartz:
Talvez a melhor fonte de opiniões contemporâneas sobre os desembargadores e a Relação seja encontrada não em material histórico tradicional, mas na poesia de Gregório de Matos Guerra. Letrado formado em Coimbra, Gregório de Matos serviu como magistrado real em Portugal antes de voltar para sua Bahia natal. Seus versos frequentemente escandalosos e sempre picantes conquistaram admiradores e uma legião de inimigos e, por causa de seus escritos, ele acabaria sendo deportado para Angola. Enquanto esteve na Bahia, entretanto, Gregório de Matos manteve relações estreitas, quando não cordiais, com muitos desembargadores e como ex-magistrado tinha particular interesse pela natureza e pelo estado do judiciário brasileiro.(...) Gregório de Matos organizou suas críticas à Relação e à judicatura em torno dos temas do poder e da corrupção.Embora tenha identificado a corrupção como uma grande falha do sistema judicial, Gregório de Matos não fazia distinção entre os vários tipos de corrupção e seus efeitos relativos no judiciário ou na sociedade. Abuso do cargo para alcançar objetivos pessoais talvez fosse uma infração dos deveres profissionais do juiz mas do ponto de vista social tinha bem menos impacto do que as formas de corrupção que envolviam trocas de favores e recompensas entre um magistrado e outro membro qualquer da sociedade. (SCHARCZ.2011. p.261-262)
Dentro dos desmandos, transgressões e protecionismos atinentes a um sistema frágil ao fomento do desenvolvimento humano e cultural de um povo, mas rígido no propósito exploratório, Mitchell sintetiza as mazelas do período colonial brasileiro:
Violações completas, estratagemas para burlar a lei, usurpação de direitos, tomada de territórios, índios, corrupção generalizada, tudo contribuiu para a concentrada monopolização da terra. Relutando, a princípio, em impor o cumprimento dos próprios regulamentos e, mas tarde, sem forças para fazê-lo, a Coroa logo observava, impotente, a aristocracia modelar cada vez mais a sociedade colonial à sua imagem e de acordo com seus próprios princípios inflexíveis (GARFIELD.1983. p. 34).
Ponto de extremo relevo apontado por Schwartz acerca do aumento da corrupção no período colonial:
(...) Na verdade, apesar de as evidências serem fragmentárias e impressionistas, parece que o nível de corrupção colonial aumentou com o tempo, de modo que as queixas feitas contra magistrados no Brasil do século XVIII foram mais numerosas do que nos séculos anteriores. A crescente burocratização do Império e o contínuo acúmulo de obrigações pelos desembargadores criavam oportunidades de corrupção cada vez mais numerosas. Os magistrados não só controlavam o Tribunal Superior e os tribunais inferiores, mas, como funcionários mais graduados, também exerciam considerável influência sobre instituições como o Tesouro e a Casa da Moeda e sobre o vice-rei em sua função de provedor de cargos (SCHWARCZ. 2011.p.263).
A confirmar a prática de atos de corrupção desde o Brasil colonial, aponte-se o comportamento da magistratura rural, na linha de Oliveira Vianna:
Ao comentar sobre o pacto oligárquico e o sistema federativo brasileiro, reconhece em Oliveira Vianna, na magistratura rural, a corrupção: Oliveira Vianna, referido como o paradigma antiliberal contraposto ao federalismo, valeu-se da corrupção da magistratura rural no momento em que escreve para fortalecer sua argumentação crítica. Segundo seu entendimento, a realidade social do Brasil seria incompatível com o modelo de “federação centrífuga”, basicamente porque o tipo de organização político-social descentralizada e liberalizante dependeria da preexistência de um arranjo institucional composto por uma pluralidade de forças autônomas que equilibrassem a tensão entre a ordem legal e a liberdade do indivíduo. Se a experiência histórica demonstra que a sociedade brasileira teria sido formada com base no insolidarismo patrimonial das elites latifundiárias, e cuja ação coletiva não teria atendido à demanda pela construção do poder público em bases democráticas e participativas, portanto, a introdução do modelo de “federação centrífuga” seria inadequada à nossa realidade por decorrência de seus condicionamentos técnicos e objetivos. (PINOTTI apud MESQUITA.2018.p.27-28)
Tecendo comentários acerca da Inconfidência Mineira e sobre o valor histórico-cultural das “cartas chilenas” Heloisa Starling apresenta o valor histórico-social na análise da corrupção através das Cartas Chilenas, texto de Tomás Antonio Gonzaga que satirizava a administração colonial portuguesa, seus desmandos e abusos na região das Minas Gerais:
As cartas chilenas tinham outro propósito. Pretendiam fixar uma perspectiva sobre o passado recente das Minas, formar um clima de opinião, estabelecer a imagem de uma monarquia crivada por abusos de autoridade. O panfleto denunciava o enriquecimento ilícito dos funcionários do rei, desfaçatez da justiça. A cobrança de taxas e impostos excessivos e arbitrários, o monopólio dos gêneros básicos. Também debochava do poder- e o riso que esse texto mobilizou como arma política produziu estragos irremediáveis de suas vítimas. As Cartas são até hoje um panfleto formidável por tudo isso; e também por outra razão crucial: compõem a mais completa denúncia do que representava a sinistra infiltração da corrupção no interior do sistema de administração colonial português. Aliás, o panfleto vai adiante: toma posição a favor da crença de que a forma da distribuição do poder e o sistema de privilégios estavam por trás da corrupção na cena política colonial, e era do particular interesse dos colonos interferir nos procedimentos que regiam essa prática para retornar aos princípios normativos da lei e da justiça que deveriam existir na origem do próprio Império português. E, além de identificar entre as práticas adotadas pela Coroa e nas ações de seus funcionários, um padrão ostensivo de comportamento político e administrativo propenso a velhacarias, as Cartas chilenas apresentam um punhado de bons argumentos para demonstrar o quanto o sistema imperial português foi suscetível à corrupção e sobre o papel central e dinâmico dessa espécie de patologia política no interior da administração colonial. De quebra, ainda apontam as maneiras como um governo, mesmo legítimo, pode se corromper e se tornar um flagelo.(...)“Corrupção”, na linguagem do século XVII, era termo de uso corrente tanto na América inglesa quanto nas Minas, e tinha o mesmo significado: venalidade e perturbação das condições políticas necessárias ao exercício da virtude do homem. Tanto poderia corroer o equilíbrio do Parlamento inglês, levando-o a abandonar a Constituição para instituir uma vontade legislativa arbitrária e despótica, como acusavam os colonos norte-americanos, quanto produzir uma apropriação privada da autoridade pública, eliminando quaisquer direitos às coisas e sobre as coisas por parte dos colonos., como denunciavam os conjurados mineiros. Nos dois casos, a suspeita é a mesma: a ameaça da corrupção contra a liberdade estava concentrada na natureza dinâmica, intrusiva e longamente expansiva do poder.(...).É precisamente a compulsão para estar presente em toda a parte da vida pública que torna o poder suscetível à corrupção e lhe permite conspirar contra a liberdade de diversas maneiras: por meio da criação de impostos inconstitucionais; pela atuação de funcionários capazes de driblar a lei para servir a seus interesses particulares; por obra da multiplicação de cargos e pensões públicas; pela usurpação da autoridade pública; para instituir um legislativo tirânico.(...).Identificar a marca da corrupção era fácil; muito mais difícil o que precisava ser feito para deter o seu rápido progresso, e esse era o ímpeto político das Cartas chilenas. Sem deixar de lado, é claro, a pretensão de chocar, denunciar, provocar e divertir o leitor. Escritas provavelmente entre 1786 e 1789 e compostas em versos decassílabos brancos, as Cartas chilenas são de autoria atribuída a Tomás Antônio Gonzaga em muito possivelmente, contaram com uma demão de Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto na fixação de alguns temas e no aprimoramento dos versos. O panfleto circulou de modo clandestino pela capitania, e parte do manuscrito se perdeu ou foi destruída por Gonzaga após a visita do Embuçado- a “Carta 6” e a “Carta 7”, por exemplo, estão incompletas; da “Carta 13”, sobraram apenas 29 versos. O panfleto tinha também um alvo preciso: o exagero de abusos de poder e fraudes cometidas pelo governador Luís da Cunha Menezes.(...)A Coroa simplesmente fechava os olhos às falcatruas cometidas por seus agentes, desde que não atentassem contra as receitas régias e, de preferência, praticassem a gatunagem de maneira discreta, através de testas de ferro escolhidos, em geral, entre os criados ou comerciantes locais. (STARLING. 2018. p. 152 - 156).
Este trabalho faz parte de uma série de artigos sobre as origens históricas e sociológicas da corrupção no Brasil. Clique no currículo da autora para acessar os demais artigos.