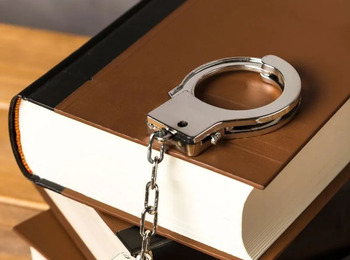No âmbito das teorizações tem-se proposta de um papel restrito para as cortes, pelos mais diversos meios: (a) reconhecimento de uma presunção de constitucionalidade dos atos dos demais poderes; (b) coerência na interpretação dos dispositivos constitucionais; (c) demarcação da atuação da corte em determinados temas, em que sua atuação seria indispensável e, hodiernamente, (d) redução do âmbito da decisão, no que denomino de “via hermenêutica” da autocontenção. (LIMA, 2013, p. 107)
Não obstante, no âmbito da aplicação do Direito, o papel do STF ao exercer o controle de constitucionalidade se tornou, para a democracia, uma “representação argumentativa” (Termo utilizado por Sarmento e Souza Neto (2013) para qualificar a atividade laborativa do Supremo, mas problematizado por Vieira (2008) que enxerga “a ampliação do papel do direito e do judiciário como uma decorrência da retração do sistema representativo e de sua incapacidade de cumprir as promessas de justiça e igualdade, inerentes ao ideal democrático e incorporadas nas constituições contemporâneas [...] o que gera, evidentemente, uma situação paradoxal, pois, ao buscar suprir as lacunas deixadas pelo sistema representativo, o judiciário apenas para a ampliação da própria crise de autoridade da democracia.” (p. 443)), tendo em vista que, em plano de hierarquização de satisfação popular, se encontra em maior relevância que uma instância político-eleitoral.
Pode-se presumir o julgamento, resultado da revisão judicial, como as teorizações expostas acima; analisar o caso e encaixá-lo em umas das opções prováveis de sentença e partir para o próximo julgamento.
Porém, diante da possibilidade de constrangimento judicial, contrariar minorias populares ou comprometer o jogo político, por exemplo, tal tarefa se torna mais complexa e minuciosa, especialmente por também ser acompanhada de expectativas da sociedade, que enxerga, consideravelmente, o desenvolvimento da democracia brasileira a partir das decisões judiciais proferidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Assim, partindo da utilização do modelo de comportamento estratégico das decisões do Supremo, conseguimos extrair delas a aplicação da autocontenção, tendo em vista a grande quantidade de ações presentes no Tribunal em que o mesmo decide, mas não julga, e que permanecem à espera de sentença. No relatório produzido por meio do PIBIC em 2019, cujo tema tratava da Teoria da Decisão Judicial e da Jurisdição Constitucional, foram analisadas qualitativamente 77 ações impetradas no STF em 2018, no âmbito do direito constitucional, e em 29 delas foi identificada a aplicação da autocontenção como técnica de decisão judicial. Logo, partindo da lógica da expectativa da sociedade brasileira, como prever uma democracia desenvolvida a partir de decisões judiciais vazias de conteúdo e resoluções?
Os argumentos jurídicos também ajudam a corte em sua estratégia, oferecendo instrumentos legais necessários a viabilizar a conduta escolhida seja ativista ou autocontida, bem como justificativas técnico-formais para suas escolhas, que reduzem os custos de suas decisões perante os demais agentes políticos, as outras instituições estatais e/ou opinião pública. No Brasil, este cálculo é mais claro e mais viável no ambiente do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que se trata do foro responsável por julgar as grandes causas nacionais, bem como em razão do desenho institucional concentrador das decisões acerca dos conflitos relevância política e jurídica. (LIMA; GOMES NETO, 2018, p. 223)
Nota-se, então, a importância da fundamentação dentro do exercício da revisão judicial, isto é, a utilização de argumentos jurídicos dotado de coerência e coesão que justifiquem a sentença ou a decisão proferida para determinado caso. Ciente disso, torna-se difícil compreender a aplicação da autocontenção como uma prática reiterada de uma corte constitucional.
O ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade para análise e julgamento do STF imediatamente demonstra a necessidade de discussão daquela matéria, inclusive mais urgente se trata de alguma garantia fundamental. Logicamente, espera-se a resolução do referido conflito para que tal direito não seja retirado tampouco não cumpra sua finalidade para com a democracia.
Todavia, ao mesmo tempo que se tem consciência dessa urgência de atuação do Supremo em casos como esse, também temos consciência do emprego das “virtudes passivas” pelos ministros, como já mencionado no capítulo anterior; logo, nos encontramos em mais um paradoxo provocado pelo ordenamento jurídico e político brasileiro, uma vez que casos como o exemplificado mantem-se com o julgamento adiado, sem que haja uma resposta satisfatória que corresponda ao princípio democrático.
“Uma máxima final que merece atenção é aquela que estipula que a corte não responderá a questões políticas, sendo estas resolvidas de modo mais apropriado pelos Poderes Executivo e Legislativo. O problema com esta máxima é que os juízes, de tempos em tempos, têm discordado sobre o que vem a constituir uma questão política. Neste sentido, a definição de uma questão política pode ser expandida ou contraída, à maneira de um acordeon, para atender às exigências dos tempos.” (LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018, p. 228)
Por isso, para esmiuçar esse paradoxo e começarmos a compreender os argumentos que sustentam a autocontenção como uma técnica de decisão judicial, será preciso que compreendamos como se constrói a revisão judicial que não é dita, ou seja, que não julga.
No campo das teorizações pode-se dizer que a autorrestrição se inicia com o reconhecimento da presunção de constitucionalidade, a qual se faz presente ao analisar o grau de legitimidade de um ato normativo ou de uma legislação. De forma que tal análise não se dedica somente ao conteúdo, mas sim à forma que foi elaborado o ato ou a legislação. Partindo da premissa de que o controle de constitucionalidade enfrenta a dificuldade contramajoritária – possibilidade de os juízes derrubarem decisões tomadas por representantes eleitos pelo povo – não se pode, portanto, descartar a hipótese de presunção de constitucionalidade, uma vez que “quanto mais democrática tenha sido a elaboração de um ato normativo, mais autocontido deve ser o Poder Judiciário no exame da sua constitucionalidade.” (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira, Notas sobre Jurisdição Constitucional e Democracia: A questão da “última palavra” e alguns parâmetros de autocontenção judicial, 2013, p. 149) Assim, a aprovação de um plebiscito ou referendo popular, a aprovação de emendas constitucionais e a aprovação de leis complementares e ordinárias assumem maiores chances de resultarem em presunção de constitucionalidade, em sede de revisão judicial, pois editadas e elaboradas por agentes eleitos.
O problema se agrava quando a jurisdição constitucional passa a ser concebida como o fórum central para o equacionamento dos conflitos políticos, sociais e morais mais relevantes da sociedade, ou como a detentora da “última palavra” sobre o sentido da Constituição. Em outras palavras, a dificuldade democrática pode não vir do remédio – o controle judicial de constitucionalidade – mas da sua dosagem. (SARMENTO; SOUZA NETO, 2013, p. 134)
Esse problema consiste em encontrar uma dinâmica compatível e clara entre a revisão judicial e o ideal democrático estabelecido pela Constituição de 1988.
“O problema que se enfrenta na delimitação da autorrestrição é a definição de quais direitos fundamentais, que protegem o processo democrático, poderiam ser tutelados pela jurisdição constitucional, o que abriria um rol maior de direitos que serão objeto de proteção e valoração substantiva pelo Judiciário.” (GOMES NETO; FEITOSA; DOS SANTOS FILHO; PACÍFICO. Litígios Esquecidos: Análise empírica dos processos de controle concentrado de constitucionalidade aguardando julgamento, 2017, p. 79)
É importante frisar que uma postura autocontida não assume um caráter negativo obrigatoriamente; muitas vezes é necessário que o Tribunal se mantenha calado para que se instaure um debate acerca de determinada questão, como uma função pedagógica , uma vez que, também, não é competência da Suprema Corte interferir em temas alheios a ela.
No entanto, tal concepção de um comportamento autocontido funciona efetivamente em modelos de democracia em que o Judiciário assume delegações limitadas e procedimentais, o que não se enquadra à função jurisdicional construída no Brasil, em que se formulou um modelo de democracia deliberativa com juízes como protagonistas. Assim entendia o constitucionalista Alexander Bickel, acreditava que ao optar por não decidir, o Tribunal poderia atenuar as possíveis tensões existentes nos campos institucional e político; isso, com o intuito de alcançar uma melhor compreensão das questões envolvidas e a melhores solução possível para todos que fosse afetados pela decisão judicial. Logo, a partir desse momento de reflexão proposital, quando a corte decidisse por julgar poderia haver a conformação coletiva, uma vez que o debate já estaria amadurecido. (LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018)
Em meio a estas diversas concepções dos papéis dos órgãos judiciais no exercício da revisão judicial, concentrada ou difusa, a autolimitação judicial reconhece a necessidade de inserção da corte num ambiente predominantemente político – às voltas com diversas variáveis estratégicas que condicionam a atividade jurisdicional: desde a necessidade de aceitabilidade de suas decisões às dificuldades – inclusive técnicas – que enfrenta para o exercício de sua atividade. (LIMA; GOMES NETO, 2018, p. 225)
A jurisdição constitucional, então, prima por preservar a regra da maioria e o sistema de pesos e contrapesos, e nisso se respalda a corte constitucional, a qual prima por preservar sua reputação e imagem. Por isso, dentre as opções de manter ou anular um ato normativo, a possibilidade jurídica de manter-se inato (“Esta aparente opção pelo não julgamento pode espelhar a consciência que a corte possui sobre as suas limitações institucionais.” (LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018, p. 226)) viabiliza uma tensão entre “o princípio e a oportunidade” (Expressão empregada por Alexander Bickel ao se referir aos efeitos ocasionados por uma decisão judicial autocontida.) sem que a corte se comprometa.
Em sua postura seletiva quanto à escolha dos casos a decidir, isto é, entre as dimensões de árbitro, de ativista ou de instituição autocontida, o Tribunal rotineiramente alterna, em comportamento estratégico compatível com os diálogos institucionais, sua postura frente aos hard cases constitucionais, dependendo, por exemplo, do contexto econômico ou do tema envolvido em sua agenda de julgamentos, ora invocando o dogma para eximir-se de decidir, ora superando o dogma total ou parcialmente para decidir em flagrante atividade criativa legiferante. (LIMA, GOMES NETO, 2018, p. 230)
Com a aplicação da autocontenção pelo Supremo não haverá questionamento acerca da validade do controle de constitucionalidade já exercido, apenas restará o grande paradoxo já exposto cujas indagações irão pairar sobre o alcance e a efetividade dos fundamentos que moldam o Estado democrático de Direito (“A autocontenção é mais eficiente: “Se o poder limitado nunca produzisse mais poder, as constituições nunca teriam desempenhado o importante papel que tão obviamente desempenharam e continuam a desempenhar na vida política.” (VIEIRA, Oscar Vilhena. A Batalha dos Poderes, 2018, p. 128)), que é percebido e estudado pela academia, caracterizando tal aplicação como autocontenção material expressa (Momento em que o Tribunal não se limita apenas às opções de validar ou invalidar diante da incompatibilidade de princípios e pode, também, promover o debate da questão.).
Não que o Judiciário não possa, em qualquer hipótese, posicionar-se ou interpretar a Constituição a seu modo, o problema reside na influência que sua competência exerce dentro da dinâmica política. Logo, valendo-se da ausência de especificações na distribuição de competências para cada ramo político e/ou estatal, interfere em sua harmonia, mesmo que sem um comprometimento dito.
Assim, quando o Supremo adia o julgamento de uma ADI que verse sobre determinado direito ou garantia fundamental, por exemplo, considera-se tal postura como parte da construção de uma doutrina constitucional de questão política (“Os dados originais coletados das decisões tomadas pelo STF no julgamento de ações diretas de constitucionalidade apontam na direção da autorrestrição, e essa respectiva abstenção exclui os freios constitucionais, modifica as relações federativas regionais e confere certo grau de liberdade ao legislador diante da ausência de perspectiva de controle judicial de suas atividades.” (GOMES NETO; FEITOSA; DOS SANTOS FILHO; PACÍFICO. Litígios Esquecidos: Análise empírica dos processos de controle concentrado de constitucionalidade aguardando julgamento, 2017, p. 75)), “isto porque uma de suas interpretações se refere ao afastamento da demanda, mas também pela possibilidade de que o próprio Judiciário tenha a prerrogativa de determinar a quem pertence o poder decisório sobre um dado tema.”
A partir do afastamento da demanda, a autocontenção demonstra sua relevância porque permite uma discricionariedade não tão limitada por parte dos ministros, o que nos permite enquadrar o STF na tese, já apresentada, do ‘legislador negativo’, por exemplo.
Porém, mesmo que a autocontenção não seja uma técnica de decisão judicial de caráter obrigatoriamente negativo, a sua constante aplicação em sede de controle de constitucionalidade torna esse exercício contraditório, dada a competência conferida ao Supremo pelo texto constitucional.
Assim, focaremos em entender quais são as justificativas que permitem o STF se amparar na ‘terceira opção’ com respaldo jurídico, de modo que continua a preservar sua posição de destaque dentre as instituições brasileiras.
Podemos reconhecer tais justificativas como as referidas ‘virtudes passivas’, sendo assim, “técnicas de adjudicação que permitem ao tribunal, no emprego de sua prudência, agir estrategicamente na perseguição de suas responsabilidades.” Dentro das possibilidades de utilização de argumentos jurídicos de cunho processual para se abster do julgamento, o STF frequentemente se afirma como incompetente para decidir, afirma a ausência de legitimidade ativa do requerente, bem como, a ausência de maturidade na demanda ou, também, reconhece a demanda como uma discussão de cunho político e decide por abrir mão de renovar a doutrina acerca do tema – por não ser o momento, talvez.
Ainda que seja possível reconhecer alguns dos argumentos como tais virtudes atribuídas aos juízes constitucionais, apresentam-se diferentes entre si, logo, não se encaixam em um padrão que tornem sua utilização prática para o Tribunal.
“As virtudes passivas são estratégias de autocontenção que procuram o embasamento em questões formais, de natureza procedimental, para justificar o não julgamento de litígios constitucionais.” (idem, p. 235)
Portanto, a aplicação da autocontenção se concretiza por meio de justificativas rasas e, também, como já dito, por meio das habilidades dos ministros presentes na Corte, somado à “arte da prudência”, distinta do juízo de valores e de princípios. Quando o Supremo se beneficia do uso dessas virtudes passivas, considera-se a aplicação da autocontenção formal expressa (Momento em que a Corte se vale de escolhas técnicas processuais e procedimentais.).
Como exemplificado, pode haver o questionamento e a verificação da legitimidade ativa para a causa (A verificação da existência expressa de permissão legal para que o autor, seja coletivo ou individual, exerça seu direito de ingressar com ação em sede de jurisdição constitucional.) como fundamento da decisão judicial autorrestritiva que, nesse caso, assume especificidade, uma vez que somente cabe ao rol de personalidades presente no art. 103 da Constituição Federal, sendo extraordinariedade desse instituto processual. É bom relembrar que o referido rol de legitimados foi expandido com o advento da Constituição Democrática, de forma que tal argumento é utilizado pelo Tribunal com o intuito oposto do texto constitucional, uma vez que delimita e inflexibiliza o acesso à jurisdição constitucional.
“Num cenário institucional caracterizado por um desenho constitucional que, contextualizado por aspirações de abertura democrática, maximizou a relação de atores autorizados a levar questões litigiosas para serem resolvidas, de modo concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, é possível identificar uma clara postura dos membros da corte, voltada a reagir contra qualquer tentativa de ampliar ainda mais este acesso à jurisdição constitucional.” (LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018, p. 235)
Por conseguinte, acompanhando o aumento do número de legitimados, houve o excesso de demandas no STF, o que tornou necessária a criação da jurisprudência do Tribunal, qualificada como ‘pertinência temática’, que acabou por se tornar, também, uma justificativa de não-julgamento. Sendo um critério de análise preliminar, acabou por impor limites ao acesso do controle de constitucionalidade, uma vez que não preenchendo tal requisito, a Corte não conheceria o mérito da ação. “O requisito da pertinência temática impulsionou a necessidade de identificação de nexo entre a norma impugnada e as atividades institucionais dos requerentes (aqueles a quem a jurisprudência exige relação de pertinência) como condição de admissibilidade do processo de controle concentrado.” (idem, p. 236)
Trata-se de efetivo mecanismo de filtro processual a serviço da autorrestrição judicial, que evita o julgamento de questões em que os requerentes (legitimados) especiais quedaram derrotados em seus pleitos por não serem capazes de demonstrar (ou fazer aceita alegada) identidade (relação lógica) entre o objeto do processo (norma jurídica ou ato administrativos sujeitos à impugnação0 e as matérias relativas à sua competência legislativa e/ou os objetos sociais da entidade responsável por propor a ação. (LIMA; GOMES NETO, 2018, p. 237)
Nisso, o STF passa a reescrever e, assim, redefinir a jurisdição constitucional dado o seu poder decisório e as prerrogativas que assume por conta disso. Esse privilégio de escolher como e quando julgar pode ser subtraído da interpretação – da própria Corte – da competência originária investida ao Supremo pela Lei Fundamental.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
Dentro desse contexto, tem-se outro vício processual em que a autocontenção se justifica, em que há a discussão acerca da competência originária do STF no que tange à temática dos litígios. Partindo dessa prática, há elevada gama de rejeição de mandados de segurança e de ações cíveis originárias.
“Nesse diapasão, a corte tem sido refrataria a sucessivas tentativas de ampliação da sua competência originária fixada na Constituição (art. 102, incisos I, “a” até “r”, II, “a” e “b”, e III, “a” até “d”), repelindo, quando lhe convém, manobras interpretativas que acrescentem em sua agenda de julgamentos questões litigiosas outras, ao seu sentir, da competência de outros órgãos judiciários.” (LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018, p. 238)
Ainda, outra justificativa para o comportamento autocontido se encontra na interpretação do artigo 4º, §1º da Lei n. 9868/1999 (“Art. 4o A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.”) – que dispõe sobre o processo e o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade –, que é suscitado pelo STF como uma filtragem processual sob a hipótese de aumento de número de ações para revisão judicial.
Dessa forma, o ministro-relator assume uma posição puramente estratégica, tem liberdade interpretativa, uma vez que tal respaldo se torna um requisito de subsidiariedade para provocar o Supremo, “deixando ao julgador ampla margem de subjetividade quanto à definição, naquele caso concreto, da extensão do requisito de subsidiariedade.” Isto é, fica a cargo do ministro-relator, por exemplo, escolher quais litígios obterão um sentença num período mais longo ou num período mais curto e, ainda, escolher qual será o tema mais adequado para ser discutido na corte, conforme seu entendimento.
Por isso, os ministros que assumem a relatoria detém um papel fundamental dentro do STF, uma vez que a partir da seletividade realizada, insurge a possibilidade de uma justificativa ser promovida de maneira tácita, como quando, simplesmente há o adiamento da decisão para um período futuro (“O Supremo seria um tribunal político não apenas porque concorda ou discorda do Executivo ou do Congresso. Mas porque controla o tempo de concordar ou discordar.” (FALCÃO, Joaquim. O Supremo: compreenda o poder, as razões e as consequências das decisões da mais alta Corte do Judiciário no Brasil, 2015, p. 93)), em que não haja questões políticas relevantes que possam prejudicar os membros do tribunal.
Os Ministros Relatores, a quem compete a atribuição de julgar monocraticamente os procedimentos (quando cabível) ou de incluir as questões em pauta para julgamento colegiado, postergam a prática destes atos para outros pontos de apreciação no tempo futuro, nos quais o calculo dos custos institucionais lhes seja mais favorável. (LIMA; GOMES NETO, 2018, p. 241)
Outra possibilidade de colocar-se como autocontido tacitamente reside na alegação de perda superveniente do objeto, que basicamente se trata de uma questão formal, o interesse processual (“O interesse processual diz respeito à necessidade e à utilidade do julgamento de um processo por um órgão individual ou colegiado do Poder Judiciário: a propositura de uma ação significa a aprovação (chamado) do Poder Judiciário para que interfira em um conflito de interesses, caracterizado pelo suposto descumprimento pela parte contrária de uma norma, seja estatal ou contratual.” (LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018, p. 242)), no que tange à construção e à continuidade válida de um processo.
Ao contrário de assumir os custos de declarar expressamente sua opção pela autorrestrição ou de julgar a constitucionalidade do ato, condutas normalmente esperadas em relação ao exercício da jurisdição, os órgãos julgadores utilizam o tempo como seu aliado retardando o julgamento até que seja verificada a alteração nas circunstâncias de fato que envolvem o litígio e, por consequência, seja prejudicado o julgamento por perda superveniente do objeto. (LIMA; GOMES NETO, 2018, p. 243)
Além da alegação de perda superveniente de objeto, há também o pretexto justificativo da perda superveniente de legitimidade, as quais se assemelham, uma vez que “decorre dos efeitos do tempo sobre a condição de continuidade do processo de controle concentrado de constitucionalidade, servindo de argumento formal para a não apreciação da controvérsia constitucional pela corte”, nisso, os fatos que compõem as condições de ajuizamento da ação afetam sua natureza jurídica, o que a desqualifica e a exclui do rol de legitimados elencados no artigo 103 da Constituição Federal.
Neste sentido, ao invés de simplesmente apresentar argumentos para não apreciar as demandas (virtudes passivas) ou deferir a competência decisória exclusiva aos poderes majoritários, com a suposição de que sua atuação é correta, o desenho institucional de nossa revisão judicial espera que a corte decida a questão (non liquet) que lhe foi submetida, não se eximindo de apreciar a suposta lesão ou ameaça a dispositivos constitucionais. A redução do grau de intervenção e o respeito às instituições representativas denotam uma flagrante restrição institucional, seja no plano interpretativo, seja no plano comportamental. (LIMA; GOMES NETO, 2018, p. 244)
Considerando esse padrão abstensivo do Supremo, no caso das ADIs, há um significativo montante processual que aguarda o julgamento ou que aguarda ser escolhida pelo ministro-relator, seja por uma sentença definitiva ou por uma decisão provisória.
“Ao não julgar, é possível que a corte explore o “maravilhoso mistério do tempo”, em suas diversas implicações. Por vezes, na oportunidade posterior do julgamento, pode-se concluir que chegou o momento de abordar diretamente a questão, mesmo que fundamentada em princípio contrário à expectativa popular.” (idem, p. 234)
E por essa razão, se torna grave tal postura assumida pelo STF, pois a sociedade civil não tem resposta acerca dos direitos e das garantias fundamentais que lhe é prometida; a dúvida sobre a legalidade ou sobre o conteúdo de um ato normativo ou de uma legislação, permanece esperando o momento oportuno para tal.
Isto é, a promoção dos direitos e das garantias fundamentais, sobretudo, dos direitos humanos, prometida pela Constituição de 1988 não se concretiza, tampouco a redemocratização, isso, principalmente, em razão de uma judicialização que não prioriza a defesa desses direitos e se estigmatiza por um oportunismo e por um casuísmo.
Nisso, estamos submissos a uma equação sem previsão de resolução fática; isso, pelo fato de o texto constitucional atribuir ao Estado a incumbência de se dedicar prover e abastecer a população com suas necessidades básicas por meio de políticas públicas (“No domínio dos direitos sociais, torna-se evidente o caráter multifacetado da desigualdade. Há uma mistura inextrincável entre a dificuldade de fruição de serviços públicos básicos, o déficit democrático e a desigualdade de acesso às ferramentas do Direito. Os grupos marginalizados não apenas têm maior dificuldade em acessar as prestações estatais, como também em interferir na formulação das políticas públicas e em acionar o Judiciário para compelir o Estado a prestá-las.” (PEREIRA, Jane Reis. Direitos Sociais, Estado de Direito e Desigualdade: Reflexões sobre as críticas à judicialização dos Direitos Prestacionais, 2015, p. 2082)), mas a intenção, infelizmente, não condiz com a realidade da população brasileira.
Em alguma medida é natural que haja um descompasso entre a realidade e normas: o direito existe afinal para transformar a realidade; para que tudo permaneça como é, não haveria necessidade de editar norma alguma. De outra parte, porém, é também certo que o direito não é portador de palavras mágicas capazes de, por sua mera enunciação, transformar o mundo real. A transformação efetiva da realidade na linha do que consta nas normas é em geral o objetivo da norma, mas, como regra, não se segue a ela de forma automática ou imediata. (BARCELLOS, 2018, p. 253)
Espera-se que as normas tragam a eficácia jurídica, mas isso não acontece simplesmente. E, como foi exposto, existem muitos empecilhos para que seja alcançada alguma efetividade na Constituição ou na jurisprudência ou em qualquer ramo do Poder Judiciário brasileiro, restando aos direitos e garantias, originados por meio do princípio da dignidade da pessoa humana, uma ideia prestacional falaciosa.
“Não é incomum, porém, que uma lei seja aprovada prevendo determinada política pública e não seja regulamentada. Ou que anos se passem sem que haja previsão orçamentária para execução da lei, ou que haja previsão orçamentária, mas ela não seja realmente executada. É possível ainda que a política seja implementada apenas em determinadas regiões (do país, do Estado, da cidade) ou apenas em benefício de determinados públicos, ou que os recursos (financeiros, humanos, técnicos) não sejam suficientes para sua execução, dentre outras possibilidades.” (BARCELLOS, Ana de. Políticas públicas e o dever de monitoramento: “levando os direitos a sério”, 2018, p. 255)
Isso, então, acredito ser o maior prejuízo trazido pelo controle de constitucionalidade intrinsecamente estratégico e preferencial – no caso desse estudo, dotado de um comportamento autocontido – para o Estado democrático de Direito, uma vez que não cumpre a sua finalidade, mas fomenta a violação do próprio texto constitucional, mesmo que de maneira camuflada, e, ainda, o favorecimento de grupos específicos da sociedade civil e da representação política, e por último, mas não menos importante, impede o acesso equitativo à Justiça (“Aqui está o paradoxo enfrentado por muitos regimes democráticos com altos níveis de desigualdade social. Embora a constituição seja generosa, como uma medida simbólica para obter cooperação, os governos e mesmo os grupos mais poderosos não se sentem muitas vezes compelidos a cumprir com sus obrigações constitucionais. Considerando que os custos para exigir o cumprimento das obrigações constitucionais são desproporcionalmente maiores para alguns membros da sociedade do que para outros, o pacto constitucional será sempre parcial, favorecendo na prática aqueles que possuem poder e recursos para conseguir vantagens com isso. O problema, assim, não seria saber se uma determinada constituição é ou não eficaz, mas sim entender para quem ela é eficaz.” (VIEIRA, Oscar Vilhena. A Batalha dos Poderes, 2018, p. 129)).
Não se trata de minimizar os vários papéis que as decisões judiciais têm e podem ter no tema dos direitos, mas penas constatar que é ilusório imaginar que possa caber ao Judiciário a função de garantir o respeito, proteção ou promoção dos direitos fundamentais em caráter geral. A edição de uma lei criando uma política pública de promoção de determinado direito será o ponto de partida: indispensável, sem dúvida, mas apenas um ponto de partida. (BARCELLOS, 2018, p. 255)
O Poder Judiciário, embora possa em diversas circunstâncias desempenhar o papel de autoridade externa, também é parte da construção constitucional, como o governo e o parlamento. Sua estrutura de incentivos pode, em alguns momentos, contribuir para assegurar direitos, mesmo contra os interesses poderosos. À Justiça, no entanto, não pode ser atribuída a função fundamental de garantir, sozinha, o bom desempenho ou a eficácia da constituição. A eficácia de grande parte das disposições de uma constituição depende da pressão da sociedade, da ação política e de atos do governo. É necessário aprovar leis, cobrar tributos, construir escolas. Ao mesmo tempo há que se cuidar para que a ação do governo não se dê de forma arbitrária e abusiva, em detrimento dos mais vulneráveis.” (VIEIRA, 2018, p. 130-131)
Para além de estudar e analisar o comportamento político e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é necessário, também, que a sociedade civil junto com as entidades civis coletivas e representativas promova o monitoramento das decisões judiciais (“Assim, é possível afirmar que o compromisso constitucional com os direitos fundamentais não é um compromisso propriamente com a existência de normas sobre o assunto, de políticas públicas de direitos fundamentais ou mesmo de decisões judiciais que determinem sua execução. Todos esses mecanismos serão meios para atingir um fim: a garantia efetiva, no dia a dia das pessoas, dos direitos fundamentais.” (BARCELLOS, Ana de. Políticas públicas e o dever de monitoramento: “levando os direitos a sério”, 2018, p. 261)) , ou seja, monitorar a efetividade das mesmas, sendo uma possível solução para ponderar os reflexos da autocontenção judicial em sede de revisão constitucional, uma vez a ciência do Direito, somente, não basta para a persecução da segurança jurídica nesta democracia.
Tal monitoramento consiste na verificação do alcance prático das decisões judiciais, bem como, no acompanhamento das execuções contidas na decisão, caso tenha e, a partir disso, buscar os resultados atingidos, no que tange à oferta do direito humano fundamental, tutelado pela determinação do Judiciário. Ainda, caso haja empecilhos ou problemas para a conquista do resultado esperado, verificar quais as possíveis resoluções para tais e encaminhá-las para os Poderes ou autoridades competentes.
“Na realidade, e como já referido, existe, apenas, uma presunção de que a realização dessas atividades e o fornecimento desses bens produzirá como resultado a promoção dos direitos fundamentais.” (BARCELLOS, Ana de. Políticas públicas e o dever de monitoramento: “levando os direitos a sério”, 2018, p. 260)
Na verdade, é preciso perceber que a grande importância dos julgamentos e os conteúdos das decisões judiciais consiste no debate público e a participação política que começa a partir deles. “Essas questões, como tantas outras de domínio constitucional, são naturalmente polêmicas, e nenhuma decisão judicial tem o condão de resolvê-las de uma vez por todas, afastando-as definitivamente do campo dos embates políticos e sociais. Pode-se alcançar, com a decisão judicial, o final de uma “rodada” na interpretação, mas não o encerramento na controvérsia sobre o significado da Constituição. Se a disputa for de fato muito relevante é pouco provável que uma decisão judicial baste para colocar uma pá de cal no assunto, aquietando os grupos perdedores e os setores da opinião pública que o apóiam.” (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Notas sobre Jurisdição Constitucional e Democracia: A questão da “última palavra” e alguns parâmetros de autocontenção judicial, 2013, p. 141). Mesmo uma sentença proferida por meio da aplicação da autocontenção não produza os resultados nem efeitos esperados para o julgamento da ação, ainda assim, é capaz de estimular o engajamento da sociedade e da comunidade acadêmica e jurídica para que, com o respectivo debate e cobrança, sejam promovidos as garantias e os direitos humanos fundamentais; nesse cenário, estará exposto o procedimento democrático claramente e a funcionalidade e efetividade jurídica pretendida pela Constituição de 1988.
Em suma, após o conhecimento dos variados argumentos materiais e, principalmente, formais utilizados pelo Supremo, resta a certeza de que os ministros dispõe de uma vasta possibilidade de justificativas dentro da opção de ‘não-dizer’, o que, somado à jurisprudência do Tribunal somente irá crescer e se aprimorar, de forma que a autocontenção, como técnica de decisão judicial, ainda poderá ser identificada a partir de novas ‘virtudes passivas’, tendo em vista o desenvolvimento da experiência do Tribunal com o Direito (“O STF ainda dispõe de uma dogmática que lhe permite transitar por esses argumentos e utilizá-los seletivamente, sem estabelecer a priori os contornos de sua atuação.” (LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018, p. 244)) e com a dinâmica do ordenamento institucional e político.
Nessa lógica, continuamos presos ao paradoxo que a aplicação da autocontenção e a provocação à revisão judicial no coloca, o que, por conseguinte, mantém a democracia em constante posição de risco, uma vez o acesso à jurisdição constitucional condiz com seu ideal, mas o exercício da mesma torna tal regime falho (“Seriam tais situações simples obras do acaso ou a consequência de uma postura estratégica dos julgadores frente aos litígios cujo julgamento imporia à Corte custos políticos desnecessários?” (idem, p. 243)).
A Constituição, em parte, deu ao Judiciário o ‘poder constituinte’ de se autogovernar, o que acabou por gerar toda essa controvérsia, que parece difícil de se desfazer. Ainda assim, mesmos falhos, serão a Lei Fundamental junto com o princípio democrático capazes de moderar tal contrariedade em que estão submetidas (Definitivamente, a Constituição não é o que o Supremo diz que ela é. (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Notas sobre Jurisdição Constitucional e Democracia: A questão da “última palavra” e alguns parâmetros de autocontenção judicial, 2013, p. 137)).
Vê-se que o direito importa no estudo do comportamento judicial autorrestrito, seja por visões especificas sobre o papel de um tribunal (material), seja porque as cortes atuam a partir de argumentos processuais (formal), oferecendo variáveis que se dedicam a explicar as razões da ação contida e/ou a maneira como os julgadores justificam e viabilizam sua estratégia de não julgar determinados conflitos. (LIMA; GOMES NETO, 2018, p. 244)
Logo, inseridos nesse paradoxo, que pode ser estabelecido expressamente ou tacitamente, para o desenho institucional resta um vácuo de expectativas diante de um julgamento, uma vez que, certamente, pode sempre esperar a recusa da Corte em decidir. Portanto, a democracia fica à mercê da seletividade judicial, em razão das preferências individuais dos ministros virem antes de suas funções decorrentes do controle de constitucionalidade.
Referências:
LIMA, Flávia Danielle Santiago; GOMES NETO, José Mário Wanderley. Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários, 2018.